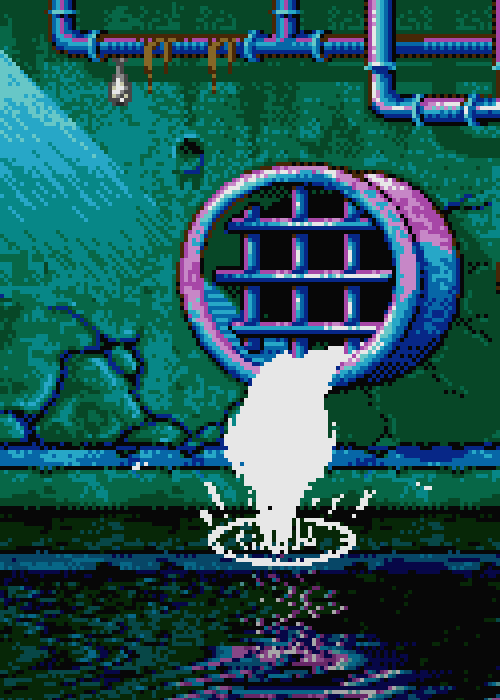O colonialismo contemporâneo no Brasil não se anuncia em discursos grandiosos nem em símbolos de dominação explícita. Ele se manifesta nas planilhas oficiais, nas metas fiscais negociadas longe da população e nas decisões que nunca chegam à consulta pública. A submissão hoje se apresenta como técnica, não como violência, e por isso avança sem resistência organizada.
Em 2024, enquanto o país discutia cortes em universidades federais e atrasos em repasses para a saúde básica, o pagamento de juros da dívida consumia valores superiores ao orçamento anual de vários ministérios somados. Essa assimetria raramente ocupa o centro do debate, pois é tratada como consequência inevitável do “funcionamento do sistema”. O problema não é falta de recursos, mas a hierarquia silenciosa que define quem pode esperar e quem deve suportar.
Nos municípios, o impacto é direto e visível. Cidades pequenas congelam concursos, reduzem equipes de limpeza urbana e suspendem programas sociais para cumprir exigências fiscais impostas por acordos de refinanciamento. O cidadão sente o efeito no transporte irregular, na fila do posto de saúde e na escola sem manutenção. A narrativa oficial chama isso de ajuste; na prática, trata-se de transferência de custo para quem não participou da decisão.
A desigualdade é reforçada quando esses efeitos são tratados como fracassos individuais. O jovem que abandona o ensino médio para trabalhar cedo não aparece como produto de um sistema excludente, mas como alguém que “não se esforçou”. A mãe solo que depende de auxílio estatal é enquadrada como peso fiscal, nunca como resultado de um mercado de trabalho hostil. O apagamento das causas coletivas impede qualquer reação coordenada.
O avanço das plataformas digitais intensifica essa lógica. Entregadores e motoristas trabalham jornadas extensas sem garantia de renda mínima, arcando com manutenção, combustível e riscos físicos. Quando adoecem ou sofrem acidentes, desaparecem das estatísticas empresariais. O lucro se concentra, a instabilidade se espalha, e a precarização é apresentada como inovação.
O apelo à paciência atravessa todas essas situações. Sempre há uma promessa de que o sacrifício atual trará estabilidade futura, embora essa estabilidade nunca chegue às periferias, ao interior ou às escolas públicas. O tempo funciona como instrumento político: adiar resolve conflitos sem enfrentá-los. Enquanto isso, benefícios tributários e isenções seguem protegidos.
Quando surgem reações, elas são rapidamente enquadradas como ameaça à ordem. Greves de professores são chamadas de irresponsáveis, protestos por moradia recebem tratamento policial, reivindicações por reajuste do salário mínimo são tratadas como risco econômico. O conflito é deslegitimado para preservar a aparência de normalidade.
O Brasil não repete o passado por ignorância histórica, mas por acomodação institucional. A tecnologia é nova, os discursos são sofisticados, os mecanismos são legais, porém o resultado permanece previsível. A concentração de renda se mantém, a desigualdade se renova e a maioria aprende a sobreviver em parcelas. Enquanto a mudança for tratada como algo distante, o país continuará pagando caro por uma liberdade que nunca foi plenamente distribuída.