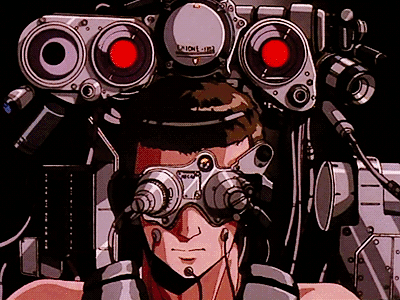Você já vive numa distopia. O país que coloca um supercomputador no bolso de quase todo cidadão convive, ao mesmo tempo, com ruas sem esgoto, escolas sem internet funcional e hospitais onde falta o básico. O celular concentra mapas, bancos, câmeras, inteligência artificial e vigilância constante, enquanto o saneamento básico ainda não alcança milhões de lares. A contradição não é exceção, é regra cotidiana.
Os dados ajudam a tirar a impressão do campo da metáfora. Mais de 90% da população brasileira tem acesso ao telefone celular, e a maioria depende dele como principal meio de conexão à internet. Ao mesmo tempo, cerca de 35 milhões de pessoas vivem sem acesso à coleta de esgoto e milhões ainda recebem água de forma irregular. O país que lidera rankings de tempo gasto em redes sociais segue atrasado em políticas públicas elementares. A tecnologia avança em velocidade exponencial, a infraestrutura social caminha em passos curtos.
Isso não acontece por descuido, mas por escolha histórica. A modernização brasileira sempre foi desigual, concentrada e excludente. A mesma lógica que implantou redes de telecomunicação de ponta priorizou mercados, não direitos. A tecnologia chegou primeiro onde havia lucro, não onde havia necessidade. O resultado é um cotidiano em que aplicativos sofisticados convivem com buracos, lixo acumulado e ausência de serviços básicos.
Nesse cenário, a vida cotidiana assume contornos de ficção científica distópica. Trabalhadores monitorados por algoritmos, entregadores avaliados por estrelas invisíveis, cidadãos rastreados por dados enquanto enfrentam transporte precário e jornadas exaustivas. A promessa de eficiência convive com a precarização do trabalho e com a transferência de riscos para o indivíduo. A inovação não elimina desigualdades, apenas as reorganiza em novas interfaces.
A normalização desse absurdo é talvez o aspecto mais perverso. Aprende-se a achar razoável depender de aplicativos para suprir falhas do Estado, aceitar vigilância constante em troca de conveniência e tratar a exclusão como efeito colateral inevitável do progresso. A ficção científica, especialmente a de viés cyberpunk, sempre alertou para esse ponto: quando a tecnologia cresce sem justiça social, ela deixa de libertar e passa a aprofundar a desigualdade.
Por isso a ficção importa. Ela não antecipa apenas futuros possíveis, mas escancara o presente disfarçado de normalidade. Ao exagerar tendências reais, mostra que aquilo que parece natural é, na verdade, um código construído. Um código que pode ser questionado, interrompido e reescrito. Quando o cotidiano começa a se parecer demais com episódios de séries distópicas, o problema não está na imaginação, mas na realidade.
A pergunta incômoda não é sobre o futuro, mas sobre o agora. Em que momento aceitou-se como normal viver cercado de tecnologia enquanto faltam direitos básicos. Em que ponto a conveniência substituiu a indignação. Reconhecer a distopia cotidiana não é exercício estético, é passo inicial para recusar a ideia de que progresso tecnológico possa existir separado da dignidade humana.